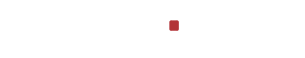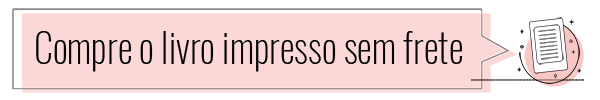Findo o processo seletivo, ainda faltava uma etapa que me deixou apreensivo: a entrevista com o piloto-chefe da RAN (Rede Aérea Nacional), Comte. Rubens Pavani RETAMAL, um gaúcho alto, de vasto bigode e voz grave. Deu-me os parabéns por ter passado nos testes e queria se certificar de mais um detalhe. Perguntou-me, secamente, “tu tens o Científico” (conclusão do segundo grau)? Deu-me um nó na garganta. Munido de coragem e com os dedos cruzados, respondi, assertiva e simplesmente: “Sim”. Sem me pedir comprovação, deu-se por satisfeito e me desejou boa sorte na empresa. Essa era uma exigência da empresa, não do DAC. Tenho que ser grato a esse gesto, de ele ter confiado em minha palavra. Não saberia qual seria sua reação se eu tivesse respondido “não”. Mas, como não temos que produzir provas contra nós mesmos, e minha resposta refletia antes um sincero desejo de não perder a oportunidade que o de iludir; não fiquei com a consciência pesada.
Fiquei moralmente comprometido comigo mesmo, antes de qualquer outra pessoa, a transformar aquela afirmativa em fato concreto. Assim, terminado meu treinamento e recebida a validação para voar como comandante na empresa – o que ocorreu em outubro do mesmo ano de 1970 – matriculei-me num curso supletivo (na época, chamado de Madureza) e, cumprindo todo o ritual, com o comparecimento regular às aulas, quando a escala de voo permitia, concluí finalmente meu segundo grau e pude, assim, transformar minha palavra em verdadeira. Posteriormente, depois de admitido e já voando em treinamento, o Comte. RUHL, meu instrutor de rota, ficou sabendo dessa história porque lhe contei e, sem ter nenhum compromisso de amizade comigo e, ainda por cima, agente da empresa que era, em cargo de confiança, jamais vazou a informação para quem quer que fosse. Meus sinceros agradecimentos e reconhecimento por esse gesto.
Terminado todo o ritual do processo seletivo, compareci ao Departamento de Pessoal da Varig munido de meus documentos, e havia uma situação insólita a ser contornada: a Sadia não me liberou de imediato, exigindo que eu cumprisse o aviso prévio. Caso não cumprisse, teria que indenizar a empresa. Como não tinha o montante, o jeito foi cumprir o aviso prévio. Mas como fazê-lo se o curso da Varig iria começar num intervalo de tempo que se sobrepunha ao meu período de aviso prévio? A solução veio do próprio diretor de Operações da Sadia, o Comte. SAN JUAN, que foi muito camarada. Durante a semana, durante o dia, eu deveria comparecer às aulas do ground school do Avro na Varig. E, à noite, e aos fins de semana, estaria livre.
Numa situação absolutamente inusitada, estava empregado em duas empresas de aviação ao mesmo tempo, na mesma função, o que era proibido até por força do regulamento das próprias empresas. Não havia impedimento legal, no entanto. Só que, na Varig, eu estava, por enquanto, só em terra, no curso do Avro. E toda essa situação estava registrada em carteira.
Saía do ground school na Varig, no final da tarde, e, de noite, ia voar duas pernas de Ponte Aérea na Sadia. Aos fins de semana, fazia mais Ponte Aérea ou um voo curto qualquer, de ida e volta no mesmo dia. Durante um mês.
Junto comigo e também oriundo da Sadia – na realidade, alguns dias antes – foi admitido na Varig o Comte. Abdalla CARAM Petrus. Fizemos o ground school juntos.
O ground school do Avro, só para nós dois, foi muito bem conduzido pelos instrutores, sendo imperativo registrar que foi a primeira vez que recebi aulas de equipamentos de telecomunicações no que diz respeito, principalmente, ao seu software e, até mais superficialmente, ao hardware, pelo competente Abraão, chefe de uma seção do Departamento de Telecomunicações da empresa. Explicou-nos detalhes sobre todos os equipamentos de bordo e também sobre os de apoio navegacional em terra, que, normalmente, passariam ao largo do elenco de conhecimentos de um piloto. Nota dez para o curso.
Quando o Avro se encontrava no hangar, em manutenção, aproximávamo- nos dele para começar a nos familiarizar com seu interior, seu cockpit, sua parte externa. Embora igualmente robusto, era um “Cadillac” comparado ao Dart Herald, mais bem-acabado e embutindo alguns refinamentos técnicos a mais, inclusive rádios HF com SSB!
Em tudo e por tudo, a qualidade do Departamento de Ensino da Varig fazia-se presente. Produzia um grande volume de material didático traduzido tanto de publicações estrangeiras quanto de lavra própria por seus professores e por comandantes da empresa. Dentre os que mais contribuíam com a produção desse material, destacaram-se os comandantes Lili Lucas de Souza PINTO, Heinz PLATO e Luiz Costa e Silva DUTRA. Naquela época, Comte. Antonio José SCHITTINI Pinto era o diretor de Ensino, sobre quem discorrerei mais adiante.
Continuando a reconhecer a Varig
Ainda havia resquícios de verão naqueles meses de março e abril de 1970 e eu sempre aproveitava as duas horas de intervalo de almoço (ser humano em primeiro lugar, lembram?) e ia para a cidade nadar na piscina da ACM e almoçar, sem medo de engarrafamento. Assim era São Paulo.
Findo o curso, tivemos dois comandantes-instrutores designados para nossa instrução de voo, tanto de rota, quanto de base. Para o CARAM, calhou o VALDIR KLEIN e, para mim, o “alemão” Érico RUHL, quem passei a chamar jocosamente de “Hauptman” RUHL – título que define o posto de capitão nas forças armadas alemãs – à medida que nossa convivência aumentava. Na aviação comercial, em alemão, designa-se o comandante como Flugkapitän. Como posso descrevê-lo? Sério, dedicado, de porte um tanto marcial, detalhista, exigente, laborioso, pronunciava as palavras num português correto puxado para o gauchesco, bom piloto, paciente, mas, principalmente, leal e confiável. Lealdade e confiabilidade eram suas marcas patentes, muito merecedoras de minha admiração.
Embora uns três anos mais novo que eu, já acumulava quase o dobro das horas de voo que eu possuía, pois começou a voar na aviação comercial aos 19 ou 20 anos. Tinha sido promovido a comandante no DC-3 pouco antes de completar 23 anos. Cerca de um ano após sua promoção a comandante, fez a transição para o equipamento seguinte, o Avro, no qual me treinou.
Os uniformes que iríamos envergar foram confeccionados na própria Varig, cuja alfaiataria os fornecia para quase todas as funções exercidas na empresa. Naquela época, os comandantes de aviões bimotores a hélice (pistão ou turboélice) usavam três faixas (galões). A quarta faixa só era acrescida na promoção para os jatos, mesmo na função de primeiro-oficial, ou para o Electra na função de comandante.
A Varig fornecia os uniformes de acordo com a Regulamentação dos Aeronautas, trocando-os nos períodos certos. Por capricho da empresa, até um prendedor de gravata era fornecido com a efígie do Ícaro, seu símbolo de então. O uso do quepe – branco – era exigido e vigiado com rigor quase militar. Alguns dos pilotos, que não gostavam de usá-lo, prendiam-no debaixo do braço próximo à axila, o que lhe rendeu o apelido de “desodorante”. E forneciam também as camisas, gravatas, divisas de ombro, sapatos, meias, malas, o terno – obviamente – e, para coroar, um vistoso casacão de inverno.
O cronograma de instrução de voo obedecia ao seguinte critério para os que eram admitidos já como comandantes: 150 horas de instrução em rota e mais 15 horas de instrução de base (local) no próprio avião (pois ainda não havia simulador do equipamento Avro). Se a instrução fosse para promover um copiloto a comandante, os números acima seriam 210 e 21, respectivamente. De tirar o chapéu vis-à-vis os critérios adotados nas outras empresas.
Meu primeiro voo de instrução de rota foi num voo da Ponte Aérea, ocasião em que só pilotei no lado direito por ainda não haver iniciado o programa de treinamento de base. Depois das primeiras horas de instrução de base, passei a pilotar sentado no assento da esquerda durante quase todo tempo.
A malha do Avro compreendia praticamente todo o Brasil. O avião só tinha sido retirado das linhas de Manaus e, se não me engano, também de Assunção. Fazíamos a rota do litoral até Recife, do Rio São Francisco até Recife ou Fortaleza e do Rio Tocantins até Belém ou São Luís. Todas essas rotas incluíam várias escalas (de 10 a 12) e costumavam sair de São Paulo pela manhã, chegando ao destino no entardecer. Havia também rotas para o Sul (Joinville, Itajaí, Porto Alegre e interior do Rio Grande do Sul). Vale mencionar que vários desses aeroportos que operávamos eram meros campos de pouso, sem nenhum auxílio à navegação, sem radiocomunicações, sem iluminação, sem asfalto.
O fascínio que a aviação exerce nos pilotos é crescente. Quando se conquista o Paulistinha, quer-se voar o Cessna; quando se conquista este, quer-se voar o turboélice executivo; quando se conquista o turboélice, quer-se ir para a aviação comercial, voar os grandes aviões turboélice ou jato e por aí vai. O mesmo se dá com relação às linhas aéreas: voa-se linhas domésticas, com olho nas internacionais, pelo inusitado, pelo desafio, pela tecnologia que se vai dominar, pelos aeroportos e regiões de infraestrutura mais avançados e pelos lugares que se vai conhecer.
Comigo não se deu diferente. O Comte. RUHL conhecia quase todos os comandantes antigos da Varig, contemporâneos do seu pai, e me contava muitas histórias a respeito dos voos internacionais. Como esses nos transmitiam uma aura de maior importância e realização profissional e, consequentemente, de prestígio, o sonho se alimentava. Sentíamos um prenúncio de glamour no ar no nosso futuro profissional.
Só algum tempo depois dei-me conta da importância do trabalho que fazíamos voando o Avro por aquelas pistas do interior do Brasil. Transportávamos crianças e velhos doentes a partir de um “buraco”, lá no meio do mato, para serem tratados em alguma capital com mais recursos. Levávamos correspondências e materiais vitais para a sobrevivência dessas populações sem atentarmos para esse nobre trabalho. Também transportávamos funcionários governamentais de posse de documentos importantes. Os passageiros desses voos, muitas vezes, pessoas simples, eram-nos muito gratos. Todo tipo de acomodações e “jeitinhos” dávamos para levar a cabo a nossa missão. E tinha um certo sabor de aventura. Pousar nos campos de terra, decolar para um destino distante hora e meia de voo, confiando na navegação puramente estimada – bússola, proa e tempo – ou visual, com mapa, régua, computador Aristo ou E-6B (O que é isso? Perguntarão os mais novos.) e transferidor no colo. Pilotar, principalmente pilotar. A aviação na sua mais pura essência, divertida, realizadora, satisfatória.
Os voos de treinamento local pegaram ritmo e, com as dificuldades inerentes, estavam tendo progresso. Relembrando que as horas de voo local que eram disponibilizadas para treinamento na Sadia eram cerca da metade das que vigoravam na Varig. Não haveria como escamotear esse “degrau” a ser vencido. Ainda sem ter o simulador disponível, os treinamentos de parada de motor tinham que ser simulados com a efetiva redução de potência de um dos motores. O Avro era uma aeronave muito gostosa de pilotar… com ambos motores funcionando. Mas pilotá-la a partir da V1 com um só motor com potência plena disponível era uma operação que exigia uma certa precisão cirúrgica.
E assim treinávamos a perda de motor na V1 com a manete de potência de um dos motores subitamente reduzida pelo instrutor à posição de marcha lenta. Isso ocasionava considerável guinada para o mesmo lado do motor “falhado”, sendo necessária a imediata intervenção do piloto, comandando o pedal do leme para o lado oposto até o batente com um vigoroso “chute”, auxiliado pelo positivo giro quase a pleno curso, do volante do manche para o mesmo lado do pedal “chutado”. Dessa forma, conseguia-se manter a “reta” de decolagem no chão até a aeronave atingir a Vr e, em seguida a V2, sendo que a subida que viria a seguir não era lá muito auspiciosa. Para uma aeronave com peso máximo autorizado de 20.182 quilos e potência remanescente de um só motor – ao nível do mar em condições standard – com 2170 SHP disponíveis – resulta uma relação peso-potência de 10 kg/SHP, em valores arredondados. Através de um mui simples cálculo, podemos constatar que a razão de subida disponível será para lá de modesta, embora o gradiente mínimo de subida – 2,4% para aeronaves bimotoras –, no segmento mais crítico (o segundo), pudesse estar sendo satisfeito.
Como já tinha me enamorado pelas disciplinas de Aerodinâmica, Teoria de Voo e Performance, sempre fazia um estudo investigativo dessas questões relativas aos novos equipamentos em que fosse voar.
No caso do Avro, esse estudo investigativo teve início num voo de treinamento local em Belo Horizonte, no qual me acompanhava o então copiloto Euclides BROSCH, também em treinamento. Na sua vez de treinar, o instrutor Comte. RUHL “cortou” o motor na V1 e o BROSCH, competentemente, fez o que tinha de ser feito. Decolando da pista 13 de Pampulha, a trajetória retilínea que se estendia para além da cabeceira oposta, 31, ia de encontro a umas elevações onde se situava uma igrejinha. Naquele contexto, sentado no jump seat entre os dois pilotos, percebi que a aeronave não iria ultrapassar o topo desses morros, embora não houvesse nada de errado com a pilotagem nem com os motores, exceto por um deles estar reduzido à marcha lenta, por força da finalidade desse treinamento.
Fomos nos aproximando do obstáculo e, na certeza de que ele não seria ultrapassado com segurança, o Comte. RUHL, prudentemente, ordenou ao BROSCH que acelerasse o motor reduzido para maior potência a fim de garantir um melhor gradiente de subida. Isso foi feito, e o treinamento continuou sem incidentes.
Quando voltei para casa, resolvi investigar mais a fundo o que poderia estar errado naquela situação. Comprei uma carta de aeródromo de SBBH que continha detalhes do gradiente da superfície da pista e da localização dos obstáculos existentes nos cones de decolagem e de aproximação. Esses dados permitiam que se pudesse calcular os gradientes de subida inicial necessários para ultrapassá-los usando a escala da carta.
Debrucei-me sobre os gráficos de performance do Avro e fiz diversas simulações utilizando os pesos que tínhamos na ocasião daquele voo, bem como os dados das condições meteorológicas reinantes. Plotei os resultados numéricos na carta, representando trajetórias de decolagem num plano vertical. As três trajetórias foram diferenciadas em cores, sendo uma para cada flap autorizado para decolagem no Avro: 7½ (sete e meio), 15 e 22½ (grafados assim no manual do avião), representando os graus (de arco de círculo) de deslocamento do flap.
Bingo! Como tínhamos decolado com flaps posicionados a 22½, a trajetória de decolagem nos levava diretamente para uma colisão com o morro. Seria impossível ultrapassá-lo com aquele ajuste de flap. Mas este ajuste era autorizado; não houve erro do instrutor, pois constava da análise de aeroportos, confeccionada pela Engenharia de Operações, como adequado para decolagem de SBBH.
Esse mesmo estudo fez-me constatar que a decolagem com flaps a 15, embora um pouco mais favorável, tampouco projetaria uma trajetória capaz de ultrapassar o obstáculo.
Cuidadosamente desenhado com todas as informações pertinentes, entreguei o estudo ao Comte. RUHL para que o apresentasse ao Comte. Carlos Joaquim Conde de WESTARP, diretor de Operações da Rede Aérea Nacional. Ele prontamente mandou revisar as tabelas. A rotina modificada orientava para operar as decolagens a partir de SBBH com flaps a 7½ graus.
RUHL, conforme elenquei entre suas qualidades, era uma pessoa paciente, respeitosa e disponível ao diálogo. Por conta de minhas características pessoais, pedi a ele que, ao invés de me corrigir as falhas detectadas durante o voo de instrução, verbalmente, ali na hora, desde que elas não fossem incorrer em perigo iminente para o voo, que o fizesse por escrito ao fim do voo. A aviação, mesmo a civil, incorpora em seu modus operandi uma boa dose de hierarquia e até um certo autoritarismo – variável, conforme a empresa – e um pedido dessa natureza poderia ser respondido com desde simplesmente um desdém ou negativa explícita, até uma sonora bronca.
Não encontrei nenhuma dessas reações por mim imaginadas na pessoa do RUHL. Atendeu meu pedido com elegante aquiescência e se danou a fazer as observações pertinentes com sua caligrafia de arquiteto – em “caixa alta” –, em uma série de bilhetinhos que acumulava durante os voos, entregando-os a mim ao final de cada jornada, com uma silenciosa, quase grave sugestão através do olhar: “Deveis ler”. Que respeitosamente e, também no meu maior interesse, lia e procurava assimilar.
Os voos de rota eram um tanto ou quanto cansativos com, às vezes, até 12 escalas. Naquela idade, entretanto, o estado físico e a resistência não eram tão afetados quanto depois, digamos, dos 55 ou 60. O cansaço era rapidamente superado; talvez até ignorado. Fazer um pouso num campo de terra acionando a remoção do Flight Fine Pitch da hélice com a roda do nariz ainda empinada no ar e mantê-la assim era uma divertida sensação de pilotagem. O mesmo se dava na decolagem, ao empinar o nariz com velocidade ainda baixa. Essas providências evitariam danos às hélices por pedras soltas na pista. Eram autorizadas e até recomendadas pelo fabricante, mas uma análise mais acurada revelaria seus inconvenientes na eventualidade de falha da remoção do batente de um FFP de um dos motores durante o pouso ou a perda de um motor na decolagem. Como, afortunadamente, nunca se registrou um desses eventos, não há o que lamentar.
Havia uma rixa antiga entre os pilotos da Real e os da Varig. Os primeiros se queixavam de discriminação e de violações das listas de antiguidades dos tripulantes. As outras queixas diziam respeito a discrepâncias operacionais que causavam conflito quando coincidia de uma aeronave da Varig ser tripulada por dois pilotos oriundos das duas empresas, promoções prejudicadas e outras desavenças. Quando saí da Sadia os pilotos dessa empresa, por sua origem, na maioria Real, diziam-me que eu iria enfrentar uma empresa muito rígida, de padrão operacional muito bitolado e vigiado, entre outras observações, às vezes, até jocosas. Por exemplo, diziam que os pilotos da Varig pilotavam sempre com os fones de ouvido para poder escutar as permanentes instruções de pilotagem originados do Departamento de Coordenação, mais conhecida como SV, como se fôssemos robôs. Piada, claro.
Nada mais longe da verdade, o que na realidade me surpreendeu, pois eu, sinceramente, esperava algo parecido com o que os meus colegas da Sadia comentavam e com o que eu tinha inicialmente percebido durante o processo de seleção. Além disso, minha experiência prévia na Escola Senai-Varig apontava para outra realidade.
O que se podia constatar, embora com falhas ocasionais, é que a Varig operava, sim, com maior respeito às normas de segurança, vis-à-vis suas concorrentes. Mas não era um ambiente impossível de se conviver.
Aqui cabe a inserção de um fato que se constitui numa exceção ao que acabo de dizer. Um dos detalhes que os ex-pilotos da Real comentavam a respeito das operações da Varig, especialmente em pistas curtas, precárias, é que essa última adotava um padrão de operação na aproximação para pouso, chamado aproximação chata (flat approach), termo aceito como oficial para esse tipo de condição de voo, técnica não adotada pela Real. Consistia numa trajetória de voo mais baixa do que o que seria recomendado (cerca de três graus em relação a uma referência horizontal). Havia riscos (ainda há) para essa operação. Comentavam os ex-pilotos da Real que “depois que um sargento da FAB colocou umas caixinhas de cada lado da pista com umas luzes brancas e vermelhas lá dentro – sistema VASIS – o pessoal da Varig passou a entender o recado” (sic).
E deve ter entendido muito bem porque, a partir de uma determinada época – pouco antes de eu reingressar na empresa – essas aproximações passaram a ser fortemente desencorajadas, a ponto de o diretor de Operações da RAN mandar fotografar os aviões em aproximação final, no exato momento em que cruzavam a cabeceira da pista, em Congonhas. Se ficasse evidenciado que alguma tivesse passado abaixo da altura recomendada (50 pés ou 15 metros) sobre a cabeceira, era garantido ao seu piloto um convite para comparecer perante o diretor em questão para um “bate-papo” esclarecedor. Não saberia dizer se era oferecido cafezinho nessas ocasiões.
À medida que eu me ambientava na Varig, durante a instrução, tive a percepção de estar sendo bem recebido, não tendo até então detectado o mais leve sinal de rejeição social, por assim dizer. Ao contrário, era convidado a juntar- me ao grupo nas saídas para jantares depois de um voo ou nos pernoites ou após as reuniões da AFA1 de Congonhas. E a charla era, quase invariavelmente, a respeito de voo, de procedimentos, de eventos, principalmente os técnicos, da nossa rotina. Mas, como nada é perfeito, o tempo se encarregou de fazer aparecer algumas arestas no relacionamento com alguns poucos pilotos. Questão de estranhamento comum entre humanos, normal em qualquer ambiente. Não tendo vocação natural para a política e para contemporizações que me soavam a excesso de lassidão, passividade, complacência no relacionamento profissional- social e, mais ainda, em virtude da inexperiência de vida, essas arestas me causaram uma certa inquietude e preterição ao longo da minha carreira. Entretanto, não posso dizer que foram impeditivas de concluir meu tempo de serviço sem ter aproveitado a maior parte das oportunidades que eu realmente prezava e que me foram, no fim das contas, oferecidas e aproveitadas.
Descobri umas verdadeiras joias de literatura referentes ao equipamento Avro na biblioteca da Diretoria de Manutenção, a cargo do Sr. Luís, com quem passei a me relacionar em muito bons termos. Pegava emprestado literatura que continha muito mais coisa, além da que constava nos Flight Manuals do avião, detalhes sobre motores e equipamento que eu sempre fiz questão de saber, mais por gostar e ter como “reserva” de conhecimento do que propriamente para ter que responder aos superiores.
Ao fim de cada período de 50 horas de instrução em rota, passávamos por um cheque de verificação de progresso. Saí-me bem em todos, não sem uma certa apreensão a cada vez. Mas outra característica minha é que a pressão não me faz mal; ao contrário, reforça-me a capacidade de reagir.
Uma das atitudes do RUHL era a de me incentivar a ficar sentado no jump seat do Avro quando nos deslocávamos de tripulante extra, para observar o “refinamento” da pilotagem dos outros comandantes, a maioria muito jovens; tinham, em média, de 24 a 25 anos. Observei-os bastante para apenas constatar que eram meros mortais como eu. O meu receio inicial de estar indevidamente situado num Olimpo de deuses voadores onde eu, se quisesse compartilhar do mesmo trono, teria que me esforçar sobremaneira, foi gradualmente se dissipando.
Durante a instrução de base (local), o Comte. RUHL considerou que seriam necessárias mais três horas além das 15 que me foram alocadas. Era o reflexo da baixa carga horária de instrução local que eu havia recebido na Sadia. Concedidas sem problemas. Findas essas três horas a mais, com um total de 18 horas de instrução local e mais as 150 em rota, eu fui considerado como pronto para fazer o cheque de verificação. Esclareço que fui admitido na Varig com um total de apenas 1.350 horas de voo, contando desde o meu primeiro voo no Aeroclube da Bahia. O mínimo exigido na época para o cheque PLA era de 1.200 horas, sendo que o tempo voado como copiloto valia integralmente, diferentemente das normas atuais.
O cheque – mostrar o resultado
O primeiro cheque foi o local, em Uberaba. Esse cheque valeria para o meu credenciamento oficial de piloto-comandante de HS-748 Avro perante o DAC, bem como de promoção para voar na Varig como comandante. Portanto, meu emprego em jogo.
No dia designado, decolamos do Santos Dumont primeiramente para Belo Horizonte, terminando em Uberaba para pernoite. O comandante do voo e checador era o Comte. Ramiro MARTINEZ, gaúcho de Pelotas e ex-aluno da Evaer, contemporâneo meu quando eu cursava o Curso de Mecânico de Manutenção, e uns três anos mais velho. Tinha fama de exigente, detalhista, rigoroso. A primeira impressão que se tinha dele corroborava essa fama. Naquele voo, em recheque, estava o Comte. Waldir ATHAYDE, carioca de subúrbio, malemolente, muito querido, bem quisto no grupo em virtude de sua personalidade afável, jocosa; um verdadeiro relações públicas e bom piloto. De voz um tanto grave e exibindo um bigode de um certo volume, lembrava um cantor de boleros dos saudosos anos 50. Conheci-o naquele dia. Ele pilotaria o voo até o destino porque era seu recheque de rota. Meu cheque local estava programado para o dia seguinte, pela manhã, antes de iniciarmos o voo de regresso.
Percebi que ATHAYDE prendia na lapela do paletó um distintivo metálico (a asinha) da Real. Fiquei intrigado, pois aquilo eu duvidava que fosse tolerado pela Varig. Curioso, perguntei: “Você foi da Real?” Respondeu-me “Fui, não; eu SOU da Real” sem esboçar qualquer sinal de aborrecimento pela minha pergunta. Pusemo-nos a rir. É, são os tais atavismos, nostalgias que pude sentir na própria pele muito tempo depois. Um momento em que o MARTINEZ estava longe da nossa presença ele me disse, em tom baixo, com a mão em concha ao redor da boca: “Esse camarada sabe tudo, vê tudo, não deixa escapar nada. É foda”. Já foi preparando meu espírito para o que iria se passar comigo na manhã seguinte em Uberaba.
No pernoite de Uberaba, saímos para jantar. O copiloto que acompanhava o voo era o JOSE ALBERTO Carvalho de Aquino, meu companheiro de aventuras acrobáticas no Aeroclube de Pernambuco, anos atrás, conforme relatado.
Na manhã seguinte, acordamos, somente o MARTINEZ e eu, bem mais cedo que o usual, pois antes de voltar no voo de linha que decolaria por volta das 9h da manhã, tínhamos o voo de cheque local para destrinchar. Tomamos o café da manhã juntos, em quase total silêncio. Uma situação que pode deixar um tanto apreensivo quem está na condição de examinando.
Chegamos no aeroporto e, enquanto eu cuidei do abastecimento, dos preparativos da cabine e do cheque externo, o MARTINEZ foi preencher o plano de voo. Depois, subiu ao cockpit, sentou-se no assento da direita e preparou o Take off data card. Seguindo-o, instalei-me no assento da esquerda, e ele iniciou um ligeiro briefing das manobras que iríamos executar sem dar detalhes de sequência. Já na partida, poderiam e foram efetivamente dadas algumas situações de anormalidades em forma simulada. Tudo pronto, dei partida nos motores, taxiei até a cabeceira e iniciei a decolagem. Com o espírito preparado para tudo, aconteceu o que seria mais do que esperado: a redução rápida da potência de um dos motores, simulando sua falha, logo após passar pela V1. Respondi à situação a contento, preenchendo as expectativas do checador, conforme tinha treinado inúmeras vezes.
Subimos para realizar as manobras altas: aproximações ao estol em várias configurações e curvas de grande inclinação e as chatíssimas curvas cronometradas com simulação de perda de motor durante a curva, tendo que realizar todo procedimento (de forma simulada) “na mão”, isto é, sem piloto automático. Os pilotos, atualmente, estão sendo poupados dessas manobras circenses, mas altamente consolidadoras da capacidade de pilotagem. Esses exercícios de voo local cansam, de verdade, a ponto de se suar bastante.
Durante a realização das curvas de grande inclinação, MARTINEZ ficou insatisfeito com minha performance, pois eu deixei variar a altitude para pouco mais do que a tolerância estipulada. Tomou o avião das minhas mãos, mostrando uma certa contrariedade no semblante e, à guisa de bronca e demonstração de como a “coisa” deve ser feita corretamente, fez uma curva em que, embora não tivesse ultrapassado o limite de variação de altitude, tampouco fora uma obra prima. Fiz mais duas para confirmar e, aí, foi tudo bem.
Descemos para manobras baixas, isto é, aproximações com procedimentos IFR simulados, aproximações com tráfego VFR e as famigeradas arremetidas, principalmente aquela na qual aproxima-se com ambos motores funcionando e, durante a arremetida, logo após iniciada esta, simula-se a perda de um motor. Haja mão de obra. Muito detalhe para se lembrar. O Avro, avião de procedência inglesa, em comparação com os aviões de procedência norte-americana, suportava o estigma de ser “complicado” de operar em virtude do detalhismo dos números (valores) operacionais a serem observados, especialmente com relação às velocidades e ajustes de flap, sequência de recolhimento dos mesmos e por aí vai. Um prato cheio para cometer-se um erro. Felizmente, foi tudo bem. Após o pouso final, embarcaram os passageiros para o voo de volta ao Rio de Janeiro, via BH, com a via crucis de cheque do ATHAYDE ainda por completar e encerrada a contento, diga-se de passagem.
Foi marcado o meu outro cheque local, dessa vez, o noturno, para dali a alguns dias no Aeroporto Santos Dumont, novamente com o MARTINEZ. Nesse voo, a apreensão já havia se dissipado muito. Mas, notem bem, um voo local, com corte de motor na V1 (várias vezes), à noite, com o Pão de Açúcar “na proa” e bem próximo, além de outros obstáculos, mais tráfego local e diversos elementos que demandam o que chamamos de consciência situacional do piloto ainda carrega bons ingredientes para que algo possa não sair como deve. O cheque foi bastante satisfatório. Eu havia me entusiasmado tanto com a “brincadeira” a ponto de reivindicar mais umas decolagens e arremetidas, pois esses exercícios estavam começando a adquirir um sabor de “vídeo game”. Ele se deu por satisfeito e encerrou o cheque. Fui aprovado. Depois disso, era esperar pelo cheque em rota. Meu cheque em rota seria feito pelo chefe do equipamento Avro que era o Comte. Acyr Victorio BUJES Alberton, também gaúcho, mas de temperamento pacato, fala mansa e com uma certa experiência de vida, pois já era casado e pai de três filhos. Era excelente piloto e tinha bastante maturidade para esse cargo e, no meu entender, uma importante característica: um bom senso de justiça. O voo de cheque foi para João Pessoa com várias escalas. Uma das etapas compreendia um voo longo (para o Avro) de Brasília a Petrolina, com três horas de duração. Nessa etapa, ele me solicitou que fizesse uns cálculos de performance relativos a consumo, autonomia e capacidade ascensional, entre outros. Subindo inicialmente ao FL 120, havia turbulência; ele solicitou, então, autorização para ascender ao FL 140; ali também tinha turbulência; solicitou nova autorização para o FL 160. Dessa vez, acima dos cúmulos, encontramos paz.
Mas eu já havia feito dois cálculos para os níveis anteriores. Quando eu ia repetir o cálculo para o FL final, ele me dispensou de repetir tudo outra vez. Respondi que não haveria problema algum em repetir novo cálculo, o que fiz, e ele ficou bastante satisfeito. Várias outras perguntas sobre o equipamento, tráfego aéreo e sistemas foram respondidas a contento. Chegamos em João Pessoa à noite e, com um procedimento NDB IFR, em condições simuladas IMC, mais a simulação de uma pane de uma das bombas hidráulicas, estava completo o meu cheque. Voltaríamos, no dia seguinte, em clima de mais descontração, pois me julgou aprovado já na chegada do primeiro dia. Não esquecer que tínhamos feito dez etapas. Na volta, recebi várias recomendações e dicas arrematadoras a respeito de tudo que já me havia sido passado durante a instrução, pois, a partir dali, eu iria voar como Comandante na Varig, cuidando do avião, dos tripulantes e dos passageiros, sem ter “papai nem mamãe” para acudir.
1 Associação dos Fofoqueiros do Aeroporto.